
Natalia da Luz, Por dentro da África
Rio – Ele é referência na literatura angolana, faz parte de uma produção que retrata a África em sua essência, com sua cultura, percalços e orgulhos. Aos 36 anos, Ondjaki já escreveu mais de 18 livros entre poesia, conto, romance… Com intensidade, ele transborda para o papel as sensações que, facilmente, são transformadas em poesia, gênero que ocupa um espaço especial em sua vida, não apenas de escritor.
Há 4 anos no Brasil, o sotaque angolano é nitidamente presente, é parte da sua identidade em construção diante da abertura a uma nova cultura. “Abertura ao fato de querermos mudar, de podermos mudar e sermos vários. Admite, assim, que a identidade, as opções, as convicções, podem, também, ser arejadas e mutáveis, como uma varanda, como um pedaço de mar…”
Ondjaki significa guerreiro em umbundu (a segunda língua mais falada em Angola), nome escolhido por sua mãe antes de seu nascimento. Apesar de não estar no registro de nascimento, Ondjaki foi apropriado para a sua estrada artística, que elege Luanda como o cenário de suas principais estórias. “Acho que quem cresceu em Luanda sente um pouco disso, uma “transbordância” muito forte. Basta andar por perto, deixar-se invadir, sonhar…”
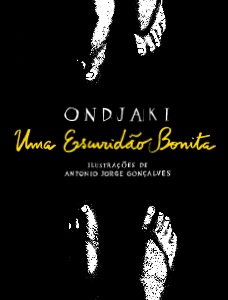 No mês passado, Ondjaki lançou no Brasil “Uma Escuridão Bonita”, que desconstrói o medo do escuro revelando alguns dos seus traços como pessoa e escritor: o otimismo, a leveza e a esperança. Confira a nossa entrevista!
No mês passado, Ondjaki lançou no Brasil “Uma Escuridão Bonita”, que desconstrói o medo do escuro revelando alguns dos seus traços como pessoa e escritor: o otimismo, a leveza e a esperança. Confira a nossa entrevista!
Por dentro da África – Você transita entre diversos gêneros narrativos. Quando você decide que é hora de recorrer ao conto, ao romance ou à poesia?
Ondjaki – Penso que, normalmente, é a própria ideia (ou natureza da estória) que declara o caminho. Há ideias mais complexas ou mais abertas que permitiriam vários gêneros, mas acho que logo depois se entende. As leituras e o treino da escrita também ajudam a adequar a ideia ao que vai ser escrito…
PDA – Quais autores serviram de inspiração para você? Como foi o seu primeiro contato com a literatura africana?
O – São mais as obras que os autores. Tive contato com autores de literatura africana (em geral) e angolana (em particular) desde cedo, na escola. E também autores de Cabo Verde e de Moçambique. Isso era muito natural na escola, estudarmos autores dos outros países de língua portuguesa. Foi na escola que tomamos conhecimento da literatura de Luís Bernardo Honwana, que é um autor moçambicano muito estimado pela minha geração, em Angola. Depois vieram outros… Ainda me faltam muitos autores africanos. Tenho que buscá-los mais. Acho que é uma lacuna nas minhas leituras, sobretudo os de África que escrevem em francês e também os do norte do continente. Existe muito boa poesia no norte…
PDA – As memórias da guerra civil e da descolonização ainda são frequentes na literatura africana. Todas essas estórias são inesgotáveis, como uma fonte que, apesar de abordar aspectos trágicos, inspira… Qual a importância de contar todas essas estórias para o mundo?
O – A importância de uma estória, às vezes, está no seu conteúdo. Às vezes, está no modo como se conta. Aquilo que é importante e grita dentro de alguém poderá dar uma boa estória. Cabe a cada um ter a sabedoria de decidir que estória vai contar entre aquilo que há algum tempo grita dentro de si.
PDA – Você é um escritor nascido em Angola, um país que é parte desse gigantesco continente. Mesmo assim, é um representante da literatura que é mais visitada hoje do que há 10 anos… Você acha que o mundo passou a ler e a procurar as estórias contadas pelos próprios africanos? Por quê?
 O – Não sei se o mundo passou a ler mais estórias contadas pelos africanos. Há um perigoso jogo editorial (que é mundial) em torno da chamada literatura africana e também da literatura latino-americana. Acho que é mais importante pensarmos numa coisa maior: existe “a literatura”. É isso que existe. É isso que é importante. Do resto, não sei…
O – Não sei se o mundo passou a ler mais estórias contadas pelos africanos. Há um perigoso jogo editorial (que é mundial) em torno da chamada literatura africana e também da literatura latino-americana. Acho que é mais importante pensarmos numa coisa maior: existe “a literatura”. É isso que existe. É isso que é importante. Do resto, não sei…
PDA – Você acha que assim como a literatura, a música, o cinema (Nollywood) e as manifestações artísticas africanas estão sendo mais expostas e compreendidas? Como essa exposição pode ajudar a revelar uma África “real”, de fragilidades, mas também de muitos avanços?
O – Acho que é muito importante respeitar a produção de cada lugar. Seja África, Europa, Ásia, etc. É preciso aceitar a tradição e o modernismo de cada lugar.
“Há sempre, em todos esses lugares, uma combinação interessante entre o passado e o presente.”
Isso se dá pela voz de quem produz arte (música, cinema, pintura, etc) atualmente. O continente africano tem uma força cultural gigantesca. Espero que possamos deixá-la acontecer e respeitar. E apoiar. Precisamos que os nossos próprios governos e agentes culturais tomem consciência disso. Seria lindo…
PDA – Por que Luanda está tão presente, viva e colorida em suas obras? Podemos dizer que Luanda moldou a sua estrada literária?

O – Acho que quem cresceu em Luanda sente um pouco isso, uma “transbordância” muito forte. Luanda é uma cidade intensa, de estórias, de gentes, de confluência de imaginários e de práticas altamente literárias. Basta ouvir e estar atento. Basta olhar. Basta andar por perto, deixar-se invadir, sonhar. E depois escrever.
“Às vezes, penso que é a própria cidade de Luanda que, há muitos anos, escreve por nós, através de nós. Ainda tenho algumas estórias para contar sobre a Luanda dos anos 80, algumas mais reais, outras mais lembradas como se tivessem acontecido comigo ou com aqueles que conheci.”
Luanda é como um sonho que nos persegue e se reacende para ser dito, recontado ou reinventado. E talvez seja um labirinto inesgotável de coisas sociais, políticas, históricas e surreais porque tão reais. A realidade de Luanda, com as suas estórias, conversas, personagens e “causos” existe, normalmente, além da ficção.
PDA – Para qual leitor você escreveu “Uma escuridão bonita”? A obra é o sinal de esperança diante do obscuro?
O – Escrevi para quem estiver disposto a ler uma estória muito simples. Escrevi para mim. Escrevi para a minha avó Agnette. Escrevi para os da Praia do Bispo. Embora tudo isto não esteja explícito, e eu tenha acabado de dizer só aqui. E não, não se trata de um sinal diante do obscuro. Trata-se, talvez, de “um simples exercício de ternura”. Umas das coisas mais bonitas de Luanda é uma conversa. Entre duas ou mais pessoas. Entre dois adolescentes. Na “escuridão”, tento explorar essa longa conversa, desviada, desviante, aumentada, que, às vezes, é preciso fazer com alguém que apenas queremos beijar, tocar, enternecer, conquistar. É a estória de um beijo no meio de uma escuridão pela falta de luz. Penso que muita gente em Luanda sabe do que se trata…
PDA – Muitos africanos dizem cultivar um imaginário diferente daquele que eles encontram quando desembarcam no Brasil e encontram o preconceito. Qual a sua opinião sobre essa relação?
 O – Observo as coisas mais com olhos de poeta do que outros olhos quaisquer. Sou um ser distorcido e distorcedor, não sirvo para análises. Vejo pessoas e os olhares, vejo os modos e as cores, vejo os pés e as árvores, os bichos e o cair das folhas, mas nunca sei que árvore vi, nem que folha era. O mais das vezes esqueço-me da estação climática.
O – Observo as coisas mais com olhos de poeta do que outros olhos quaisquer. Sou um ser distorcido e distorcedor, não sirvo para análises. Vejo pessoas e os olhares, vejo os modos e as cores, vejo os pés e as árvores, os bichos e o cair das folhas, mas nunca sei que árvore vi, nem que folha era. O mais das vezes esqueço-me da estação climática.
“Como pessoa, e até como poeta, sou contra todos os preconceitos e fico triste quando vejo um cidadão brasileiro debitar uma série de preconceitos ridículos contra portugueses ou contra cidadãos africanos”.
Também me constrange quando o mesmo acontece com portugueses a falar do Brasil ou de Angola. E o mesmo em Angola. É preciso ver as pessoas. As pessoas de verdade. Os países de verdade, que existem; que são; que estão. Viajar ou ler são excelentes modos de fazê-lo.
PDA -Você se assume como absolutamente de esquerda. Como você se expressa em relação aos acontecimentos políticos e sociais de Angola? Você aproveita o seu lugar (de intelectual reconhecido) para provocar reflexões?
O – Eu acho que um dos papéis da literatura é fazer sonhar ou pensar. Não sei se a minha literatura é capaz disso. Espero que sim, nem que seja um bocadinho apenas. Os acontecimentos sociais e políticos de Angola preocupam-me, e fazem doer, como a qualquer angolano minimamente preocupado com o seu país.
PDA -Há muitos jornalistas (como Rafael Marques, Domingos da Cruz) e ativistas perseguidos em Angola por conta de seus protestos contra a corrupção, a afronta à liberdade de expressão. Como alguém que trabalha sobre os pilares da expressão, como você se relaciona com casos como esse?

O – Lido com todas as situações de perseguição ou censura com preocupação e tristeza. É algo que me deixa profundamente triste. A injustiça é um fenômeno mundial, sabemos disso. A desigualdade social, algumas perseguições, acontecem tanto nos Estados Unidos da América como na França ou na Itália. Mas quando se trata do nosso país, da nossa gente, dói mais. Penso que as coisas deveriam estar já a acontecer de outra maneira. Deixarmos as pessoas falarem, contribuírem com as suas críticas ou perspectivas diferentes, só pode fazer o país e a participação política crescerem. Penso que, muito em breve, os políticos angolanos vão entender (e aceitar) que a democracia não é apenas organizar eleições de “x” em “x” anos.
A democracia não é apenas permitir que se constituam outros partidos. Implica, obviamente, numa pluralidade de vozes e de visões. Mas não é apenas a existência dessas “outras vozes”, é também o fato de que possamos escutá-las, levar em conta, considerar. Este, acredite, é um dos grandes problemas do continente africano e, também, especificamente de Angola: já é possível falar; já é possível reclamar; já é até possível gritar. Mas temos pouca gente a ouvir. Ouvir implica “considerar” a opinião do outro para refletir. Ouvir implica respeitar a opinião do outro, dos outros. E, claro, ouvir implica disponibilidade. Talvez estejamos ainda numa época de pouca disponibilidade, baixa tolerância e alta arrogância.
“Ouvir implica respeitar a opinião do outro, dos outros. E, claro, ouvir implica em disponibilidade.”
O respeito pelo outro exige devoção, paciência e abertura. É a inexistência de uma certa “abertura” que mais me preocupa. Ver o outro. Ler o outro. E respeitar. Infelizmente, os políticos africanos e angolanos ganharam o vício de “ler” o povo como “um outro”, e não como “eu também”. O povo somos todos. Ou deveríamos ser. Se nos esquecemos disso e de que a função de um dirigente é “servir” o povo, então estamos num perigoso caminho de equívocos. É tudo isto que me preocupa, para não dizer mais: tudo isto e a auto-censura, que é um dos piores e mais maléficos tipos de censura que o ser humano pode exercer…
Por dentro da África







